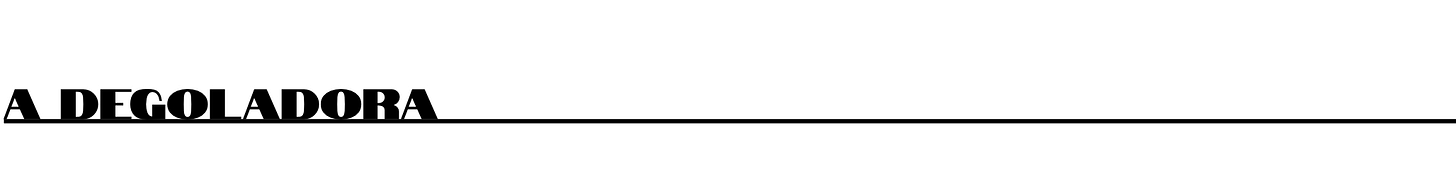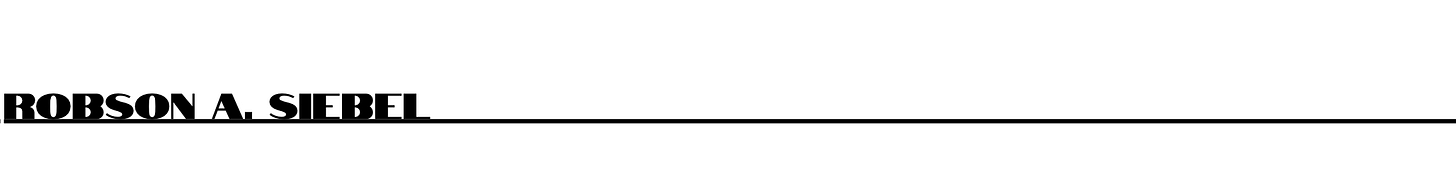O ano de 1999 ficará marcado para sempre na história de Paris, embora seja uma daquelas coisas que as pessoas fazem questão de tentar esquecer. Mesmo hoje, vinte anos depois dos acontecimentos daquela primavera fatídica, ainda é difícil encontrar alguém que queira falar sobre o que aconteceu. A verdade é que as pessoas ainda têm medo. Como se, de alguma forma, aquele ano longínquo jamais tivesse terminado.
As atenções do mundo todo naquela altura estavam voltadas para o início do novo milénio, e Paris, como um dos principais palcos dessa imensa festa, já tinha começado os seus preparativos. Todo esse clima acabou por ajudar a ofuscar os primeiros acontecimentos. Mesmo havendo denúncias formais na polícia — a primeira datando de 25 de março de 1999 — o caso só ganhou notoriedade em meados de maio, e por uma razão bastante peculiar: o crime aconteceu num cemitério.
“Terror no Cemitério de Montparnasse” dizia a matéria na terceira página do Le Parisien. Logo no início, uma foto pequena e escura mostrava uma sacola de compras da qual pouco se podia identificar, além de uma baguete muito saliente cuja ponta parecia ter sido arrancada.
A vítima era uma estudante de 24 anos que havia sentado para ler um livro num dos inúmeros bancos espalhados pelo cemitério, coisa que costumava fazer com frequência devido ao silêncio e clima agradável do local. Tendo acabado de voltar das compras, a jovem deixara a sua sacola encostada no canto do banco enquanto folheava um livro de direito constitucional. Absorta na leitura, só se apercebeu do ocorrido quando foi se levantar e apanhar a sacola: alguém havia arrancado um pedaço da sua baguete, e ela jazia ali, como que degolada. Testemunhas que andavam pela Boulevard Edgar Quinet relataram ter ouvido um grito aterrorizante que ecoou pelo cemitério. Eram 16h45, 14 de maio de 1999.
A matéria em questão fez surgir múltiplos relatos de pessoas que já haviam prestado queixa sobre acontecimentos semelhantes nas semanas anteriores, todas sumariamente ignoradas ou minimizadas, e ainda outros relatos de pessoas que, acreditando terem sido vítimas de alguma brincadeira ou ato isolado, não contaram nada a ninguém.
O assunto alastrou-se como fogo em palha, e dentro de poucos dias era só o que se falava em toda a cidade, desde os altos do Sena até o vigésimo distrito. Havia um criminoso à solta em Paris, e nenhuma baguete estava a salvo. Um jornal de pequena circulação chegou a dar ao criminoso o espirituoso apelido de Breadespierre, mas tudo mudou quando surgiu a primeira vítima famosa e o caso ganhou a capa do Le Monde.
“Qui a décapité la baguette de Juliette Brioche?” O título em caixa alta era acompanhado por uma foto da atriz, usando óculos escuros e cercada por jornalistas. A reportagem explicava que a polícia havia levado a baguete para fazer uma perícia detalhada, e o prefeito de Paris, ao ser contactado por telefone pelo jornal, prometeu que não descansaria enquanto o criminoso não fosse encontrado e trazido a julgamento.
Os jornais da TV agora reportavam o caso diariamente, trazendo especialistas da área criminal, bem como padeiros artesãos. Os debates variavam desde análises de comportamento do criminoso até debates sobre os diferentes tipos de baguetes das vítimas, na tentativa de traçar um perfil mais detalhado da preferência do facínora.
O resultado da perícia saiu em poucos dias, e foi amplamente noticiado: a ponta da baguete não havia sido arrancada, mas sim mordida. Por meio de uma cuidadosa análise do tamanho da arcada dentária, confirmada por uma amostra de DNA, a polícia chegou à conclusão de que o criminoso era uma mulher com altura aproximada entre 1 metro e 50 e 1 metro e 65.
Os jornais logo se apressaram para criar um nome para a criminosa em série, e apesar das mais variadas sugestões, o nome que ficou na boca do povo foi A Degoladora. Não faltaram pessoas dizendo que não fazia sentido, afinal, uma baguete não tinha garganta; outros argumentavam que a mordida nem sempre era na ponta da baguete, mas um pouco abaixo, o que fazia parecer que a baguete tinha um pescoço — além de coincidir com a hipótese da polícia da criminosa ser uma mulher de baixa estatura. Houve ainda um jornalista renomado que escreveu um artigo apaixonado onde dizia que quando alguém mordia uma baguete criminosamente, era o mesmo que arrancar um pedaço da carne do cidadão francês. Esse mesmo jornalista, anos depois, escreveu um artigo em que dizia que a manteiga era o sangue que corria nas veias dos franceses, e isso rendeu muitas cartas de críticas, inclusive da sociedade dos cardiologistas franceses. Ironicamente, o jornalista viria a falecer poucos anos depois, vítima de infarto da artéria coronária.
O clima que se instaurou em Paris era de terror e paranoia. Todos andavam com as sacolas de compras abraçadas ao peito, com as baguetes sempre à vista, e miravam os outros com olhar acusatório sempre que alguém parava muito perto. Mas havia sempre uma pessoa que se distraía, havia sempre uma baguete saliente no transporte lotado. Um segundo de desatenção era o suficiente para a baguete aparecer mordida, tamanha era a habilidade da criminosa.
Nessa altura chegou-se a conjeturar que talvez se tratasse não de uma criminosa apenas, mas de um grupo que atuava de forma a criar distrações ou situações cuidadosamente planeadas que favorecessem o ataque. Também houve quem acreditasse que a fama do caso tivesse criado copycats, porque os relatos de ataques estavam espalhados por todos os distritos de Paris, e muitas vezes com pouca ou quase nenhuma diferença de tempo, se é que estes eram confiáveis.
A situação era tal que um deputado da Frente Nacional chegou a discursar em frente ao parlamento segurando uma baguete mordida com o braço direito em riste. Alegou ter sido ele mesmo vítima d’A Degoladora e pediu a declaração de um estado de sítio e uma reforma nas leis e estatutos criminais que, segundo ele, eram muito brandos. A imagem do deputado segurando a baguete virou charge no mundo todo, e ele foi afastado pelo partido na semana seguinte quando surgiram denúncias de testemunhas que o teriam visto morder a própria baguete num dos corredores da Assembleia Nacional, minutos antes de discursar.
Medidas como a criação de sacos que cobrisse a baguete na totalidade foram sugeridas por especialistas internacionais, mas foram imediatamente rechaçadas: levar a baguete em baixo do braço num saco que cobria apenas ¾ do seu tamanho era mais do que um direito do povo francês, era um estilo de vida, e nisso não se podia mexer.
O nível de desconfiança era tão grande que acabou por instaurar-se um clima de vigilância mútua, em grande parte incentivado pelo prefeito, que já não sabia mais como lidar com a situação e via o seu futuro político em risco. E foi nesse clima que lembrava muito a Berlim de 1940 que uma cidadã — que preferiu permanecer anónima — entregou à polícia um relatório deveras completo onde acusava a sua vizinha de ser A Degoladora.
A cidadã argumentava principalmente sobre a estranheza do fato da vizinha ter parado de comprar baguetes, para além de sair frequentemente de casa e “ser uma senhora muito esquisita”. Em anexo ela tinha ainda adicionado fotos da tal senhora andando pela rua com uma sacola de compras normal, e por muitas vezes parada próxima de alguém que carregava uma baguete.
Na manhã de 5 de junho, dois oficiais de polícia se deslocaram até a Rua Daguerre e bateram na porta listrada em azul e roxo. Foram recebidos pela própria acusada, uma senhora de quase setenta anos com o cabelo muito curto, pintado de vermelho vivo e com as raízes brancas aparentes. Ela gentilmente os convidou para entrar e ofereceu uma xícara de café enquanto eles explicavam, com certo embaraço, o motivo da visita. Fizeram ainda questão de dizer que era mais uma formalidade, que era obrigação deles investigar cada denúncia, e que eram grandes fãs dos seus filmes.
A acusada achou muita graça da história toda, e explicou aos policiais que recentemente havia descoberto uma alergia ao trigo, e que esse era o motivo de ter parado de comprar baguetes. Os policiais riram da situação enquanto faziam carinho nos gatos que roçavam as suas pernas. Em seguida, agradeceram o café e pediram licença para sair. A senhora os acompanhou até a porta e desejou um bom dia. Os policiais iam saindo em direção à Rua do Maine quando quase trombaram com uma mulher muito jovem que vinha da padaria.
A senhora fechou a porta e voltou para dentro. Despejou café na sua xícara enquanto terminava de mastigar. Passou o dedo e limpou o farelo de pão no canto da boca.
Robson Siebel (ele/dele) é natural de Capinzal, uma cidade pequena no sul do Brasil. Conseguiu encontrar uma interseção na carreira de programador e na paixão pela escrita criando jogos narrativos como Blackout: The Darkest Night, também publicado como livro-jogo. Em 2022, teve o seu conto, «O Ovo de Jhan-dih-ra», publicado na antologia Espadas e Feitiçarias. Atualmente, reside em Lisboa, onde trabalha com jogos digitais e escreve contos que vagueiam pela ficção especulativa e pelo realismo mágico.