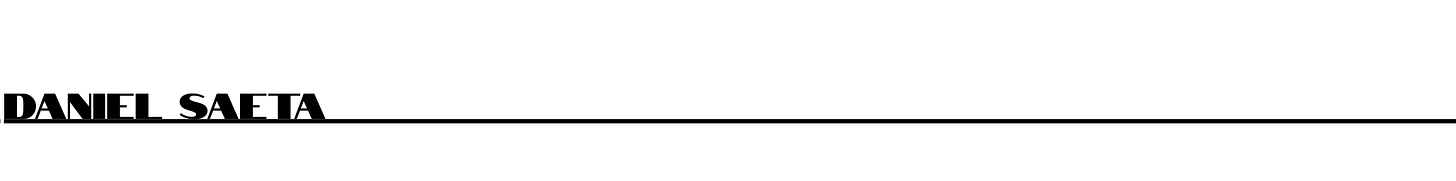Acordo só comigo. O sol tem dado pouco as caras em minha janela. Porém, levanto para lhe dar bom dia e ver se me espiam do prédio da frente. Infelizmente, ninguém o faz. Vou começar a dormir pelado para acordar com um olho colado em mim. Aquele olho que se desgruda no momento que percebemos. Tenho sorte de morar em frente a um prédio com muitas janelas. Será que me olham? Tomara que também usem óculos, porque a vista é muito diferente por esse enquadramento. Ideal mesmo que fossem redondos, porque aí não tem chance de serem terraplanistas.
Amo meus óculos por me focarem o sentimento. Olho o espelho constantemente, e sorte que é um de tamanho natural que fica preso em meu armário. Meu reflexo não me dá muita bola, passamos a tentar nos ignorar com o decorrer desse ano de 2020 e suas prolongações. Eu que o encaro mais e só assim que ele dá a graça de olhar de volta. Mas entendo o sentimento, estamos presos no mesmo corpo só que em quartos diferentes: o dele só tem a dimensão de um pedaço de nossa mesa e a cadeira com roupas empilhadas. Ele não vê a janela. Sua janela é apenas a dimensão que se cria quando tudo que observo com meus olhos se torna parte de mim, pelo menos no ínfimo instante que sua totalidade reflete em minha retina. Nesse momento o sol é menor do que eu. Sou todas as janelas. Reflexo em sincronia. Será empatia ou será carência? Afinal todos nós temos dois olhos, e vemos quando somos permitidos pela ocasião. Talvez nem exista uma real diferenciação entre ambos, só as entrelinhas do embelezamento da linguagem. Saio do quarto.
Na clara falta de habilidade com os meus detalhes, faço café e pego algo para comer. Não sei que horas devem ser, mas pela sombra lateral que meus móveis tracejam, já devo ter que almoçar. Comida requentada, vale pelo sentimento de que fiz. Quando não, parece que mastigo a manhã de outra pessoa. Nem sei dizer se é realmente pior, mas também nem sei dizer se é manhã. Vocês têm gato? É que almoço ainda de frente para a janela, e por medos e sugestões temos gato e rede para gatos. Acho bonito o bordado que se desenha entre as redes e os prédios. O entrelaçar é uma figura de imagem interessante tanto para mim quanto para os gatos. Meu gato toma sol na crença, quase divina, no homem que tem como trabalho botar essas telas. E eu o encaro. Tornando-me minúsculo na nuance do preto ao azul de seus olhos, ficando ali eu e meu reflexo. Parados. Mudos. Minha comida esfria, o café também.
O gato corre na direção do corredor para miar para meu pai. Ele acaba de sair do quarto e fala mirando ao chão como se ali tivesse um humano deitado na frente da porta do banheiro. Um humano gato velho, diga-se de passagem. Minha relação com meu pai, depois do fim do casamento dele, é a quantidade de anos que o velho deitado no chão tem. Quinze anos. Não sei se vocês já se encontraram em uma situação como essa, onde um gato te vê como móvel. E não dos mais confortáveis, porque não deita em você. Mas como algo da casa. Aqui deixo claro como está minha vida amorosa nesse período. Nada boa.
Não amo ninguém por volta de um ano, talvez mais, talvez menos, nunca se sabe bem quando se acaba o amor. Mas tenho uma leve impressão de ter sido amado há menos tempo: o pensamento da parte que é chamada a ir até a casa do outro no dia da conversa de término. Sair da conversa aos prantos daria uma boa cena de novela, só os direitos autorais seriam altos pela única música enfiada nos meus ouvidos. Existe momento mais oportuno para se falar de amor do que não amando?
Pego a cadeira de praia, mais café, um livro de enfeite, minha caixa de tabaco e a máscara. Pé fora do apartamento. Minha preguiça está comovente ao ponto que o elevador já espera. Entro. Meu pequeno elevador de Botafogo que tem espelhos por todos os lados. Brincar com espelhos, um de frente para o outro. Viveram essa mesma criança? No mundo nada nunca me tirou tanta a atenção. Porém, como já sabemos, estou em uma situação meio desconfortável com aquele ali. Olho de canto de olho com dez anos em um corpo de vinte e quatro. Vejo os bens mais de vinte e quatro Danieis que o espelho me traz. Todos refletem o mesmo olhar de canto de olho. Os cantos se tornam totalidade a esquerda e depois a direita. Ser inteiro apenas quando junto em minha mente os dois lados. Todos nos esperando chegar ao topo. Moro a dois lances de escada do terraço, mas subir degraus não parece condizer com esse ano. E sendo muito sincero é um dos poucos momentos aglomerados que posso ter. O elevador é minha festa pessoal, mais certa, minha festa infantil pessoal. Ali todos temos dez anos. E o infinito que nunca foi conforto para minha alma ansiosa torna-se abrigo. Esticando o braço, vários abraços. Preciso me prolongar, me multiplicar, tornar dois, três, ou infinito se a impossibilidade deixar. Escrevo e assim tenho mais bocas. Tento escrever. Ganho mais traqueias. Só a lápis. Obviamente. Falta ganhar outro intestino. Aqueles que aquecem com o café, mas principalmente com o alarmar de outras escritas. Leio bastante, procurando os infinitos de outros. Escrevem melhor que eu. Mas minha quantidade de dedos acresce com cada final de livro e cada vez que chego mais perto minha cabeça da porta do elevador. Refletido na direita e na esquerda.
Sou claustrofóbico e não importa se os espelhos trazem corredores infinitos. Sou claustrofóbico. Entendo-me assim desde que escutei a palavra, infelizmente minha mãe também é e ouvi cedo. Agonizante? Um pouco, mas ficamos todos juntos em apneia. A falta de ar é algo comovente. Sempre que bocejo cai lágrimas de momento. Não choro por nada específico, mas choro por tudo. Talvez seja meu lado mais empático ao bocejar sempre que alguém boceja. Ainda pode ser carência e não chegamos a nenhuma conclusão. Meu peito aperta e me lembro de uma frase que escrevi quando amava: O mundo parece menor vivendo só em um, e um parece grande demais ao se olhar para dentro sem companhia. Um pouco demais me auto citar, não é mesmo? Desculpe, foi a claustrofobia. O elevador chega. A porta abre e apenas um de nos sai. Nenhuma certeza de qual.
Aqui o sol fala comigo diretamente. O concreto querendo ser areia e o sol de terraço tentando ser sol. Meu abrigo do décimo terceiro andar no meu prédio de doze andares. Abro a cadeira ao céu para cobrir-me de luz. Acendo um cigarro e respiro. Paradoxal demais cigarro ser respiro? Respiro. Cai uma lágrima da fumaça, parece fugir da claridade se abrigando no escuro dos meus olhos. Permaneço assim procurando meu livro esticado na areia do terraço, mas não me atrevo a fugir de mim.
O céu continua lindo nas suas entrelinhas que percebo quando o olhar se torna fenômeno e não ato. O clarão azul se confunde com o pintado da marquise do terraço. O azul claro parece compor com o celeste fazendo meu prédio ganhar extensões impensáveis para uma moradia na zona sul carioca. Amo o Rio de Janeiro, mas principalmente o brasileiro. Ser brasileiro, sou e sou ser, nada me define mais. Corro da chuva assim como quem ama praia. Não vou à praia, mas corro para o sol. Queimo, mas alegro-me pela viagem que é sair do asfalto e bater nas labaredas. Sou carioca e não gosto de açaí. Sou carioca e não gosto de mate. Sou carioca e odeio meu presidente. Sou carioca e continuo à procura de viver de chapéu panamá e a vida junto ao mar. Não uso chapéu porque deixa careca. E já tenho esse destino por causa do meu avô de parte de mãe: careca aos vinte e cinco. Tenho vinte e quatro. Ainda não sei ser infinito e como brasileiro também não sei ser universal. Sou carioca e brasileiro, mas muitas vezes esqueço, mesmo vivendo o brasileiro toda vez que chove ou toda vez que faz sol. Só não esqueço que é triste demais ser carioca na chuva. Hoje faz sol. Mas as nuvens parecem que vão me tirar da minha cidade natal... Já, já.
Viro a cadeira de costas por conta da vermelhidão que começa a se alastrar. Deito a cadeira e sento a olhar o áspero do chão, me marcando os joelhos com os cotovelos. Mais uma xícara do pouco café que ainda resta. O sol queima tanto a areia do concreto que me vejo espelhado, prolongando meu exercício de escrever. As múltiplas pedras do concreto criam infinitos Danieis formados do calor. Todos observam. Fico afoito em escrever nos milhares de espelhos, viver do sol faz-me areia. Quem será que saiu do elevador? A única certeza é que todos queremos o fim da pandemia.
Abrigo minha cabeça na metade de cada palmo da mão. Vejo o sol teimar em me queimar as costas deixando sempre à frente o escuro da minha própria sombra. O clarão sai do céu em azuis e do chão em reflexo. Sigo imerso num mar de espelhos. Ainda escrevo como o pingado de meu café, sendo pueril na passagem pelo filtro. Acaba o café. A borra fria se perde com a xícara parada ao encontro da luz. O exercício antropofágico dos meus reflexos devoraram-me quando risco o papel. O grafite se míngua com os pingos que caem dos céus. Não sou mais carioca.
Levanto trazendo comigo todas as coisas que me rodeiam, do copo vazio do café até os estilhaços de espelho que quebraram com o derrubar da água. Corro ao elevador para que possa não carregar cacos. Cada um pega o que diz respeito a si, e todos nós levamos um fragmento que pode ser vidro ou pode ser frase. Todas as vozes de dez anos de idade gritam. A porta do elevador que olho enquanto desço é de um metal tão prateado que reflito nela. Chego ao meu andar e vejo ele ir embora, arrastado a direita, deixando em frente a continuidade da minha rotina. E em minhas mãos um texto de várias mãos e de um momento.
Daniel Saeta (ele/dele), passeia por diferentes campos com sensibilidade. Fotógrafo e cineasta nos brinda, hoje, com um conto que traduz seus olhares. (Tulio Saeta, dos olhos aos olhares que a paternidade confere, um fica comigo, no antigo de ser filho em Portugal e outro com ele, no jovem de ser pai no Rio de Janeiro.)