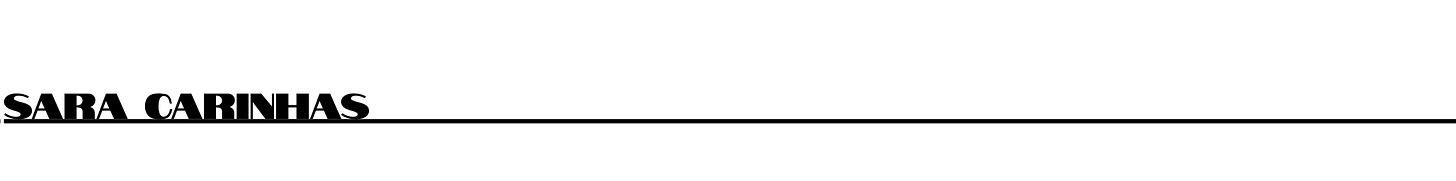Romi, na sua fuga de boleia em boleia - camião, mota, van de caixa aberta, a pé que nem peregrino cumprindo promessa, se afasta cada vez mais da sua casa-amor. Pequena mochila às costas, camiseta mudando de cor com a poluição das estradas - gasóleo, óleo, petróleo, tubo de escape, escapar, suar, cabelo pingando, ora do calor, ora da chuva miudinha. Pára, ao fim de quase 24 horas, num ponto de ônibus no meio do nada. Uma casinha branca e azul com um banquinho para não mais que duas pessoas. Espera. Vê um resto de cigarro semi-apagado no chão perto dos seus pés. Enquanto se estica para apanhá-lo pensa no quanto tinham falado sobre essa expressão: “no meio do nada”. Segura com cuidado já nos dedos a bituca fumegante e assim que se endireita para a levar aos lábios vê Julie do outro lado da estrada olhando para si. Em atrapalhação perde a força, fura a camiseta, rosáceas vermelhas, taquicardia. “Vou morrer”. Julie agora de jeans azuis e camisa branca, cabelo apanhado para cima, sorri, entre a felicidade e a graça de ver a sua aflição, mãos nos bolsos, árvores descortiçadas por trás de si, que pareciam ter crescido de ainda há pouco para agora, ajudam a tornar a sua figura uma aparição, um assombro, e ao mesmo tempo alguém desconhecido, encontrado assim, na beira da estrada. Romi, igual às árvores, de tronco arrancado de dentro para fora. Totalmente impossível aquela visão.
O que Julie tinha feito para ali chegar era da ordem da loucura. A vida tinha sido transformada nisso, afinal, desde que se conheceram - uma valsa alucinada dificílima de travar. Queria poder ver o seu amor longe da festa, da família, da varanda, da lua, dos tiros e do cheiro da noite.
O que acontece de seguida é da ordem da dialética. Uma cena bem rara, sem interrupções, mas não tão difícil assim de acreditar, em que duas pessoas, bem perto uma da outra, ensaiam e rascunham o que poderia vir a ser a sua história, a sua vida dali para a frente.
Fazem muitas perguntas, muitas suposições, muitos planos sem fim. Tudo se projeta, tudo se planeia, tudo se imagina. Cada hora do dia, cada sonho de infância, cada data importante, cada possível argumento. O nome de cada criança (e se não conseguirem ter nenhuma?), as divisões da futura casa, pets, amigos em conjunto, os jantares prolongados, as viagens longas, e quando as malas se perderem, e quando os documentos se perderem, e quando se perderem no mapa, no museu, as crianças perdidas no mercado (e se não tiverem nenhuma?). O sexo, os orgasmos, o tesão, o medo da primeira discussão, a noite em que dormirem de costas voltadas, em que deixarem de dizer que se amam, o café da manhã levado à cama, o amor ainda dentro dos olhos um do outro. Sustos de hospital, funerais, lutos sem fim, desesperos tremendos, silêncios duros, gargalhadas incontroláveis, defeitos risíveis, as mãos dadas, como ali, enquanto conversam, as mãos dadas no escuro, as mãos apertando-se de pavor, a mão na bunda, a mão na nuca, a mão vazia a faltar. As refeições repetidas, os dias banais, o mundo em guerra, o jornal metendo susto, a tv metendo susto, o celular metendo susto, metendo merda, metendo asco. Falar sem fim sobre um tema que apaixona. Insónias, insolações, insensibilidades. Feridas irreparáveis, fotografias de férias, férias que parecem penitências, fugas para poder estar só, e mentirinhas que se tornam hábitos, e hábitos que se tornam vómito, e vómito que se torna tudo o que foi um dia impensável. Ainda assim: e se tudo der certo? E se as crianças crescerem? E se os cachorros se reproduzirem? E se o coração bater igualzinho como no primeiro dia? E se os dedos se entrelaçarem igual, se reconhecerem igual, se pertencerem igual - que bonito que foi, né? E um de nós morrerá primeiro e quem ficará terá de lidar com o corpo frio, dedos nenhuns, nenhuma nuca. Ou a gente morre junto num acidente. Ou dormindo, quem sabe. Ou nossa família se vinga e nos mata de um só golpe por vingança. Ou tu tomas comprimidos para dormir e eu te encontro te julgando à morte e tomo todos os que sobram e morro de vez. E depois eu acordo e te vejo à morte e me obrigas a encontrar algo que me mate de vez para que não fique só.
Aqui a conversa pára depois do que pareceram mil horas. Um arrepio imenso por dentro. Não dá mais para chorar, para rir, para usar da língua, dos pulmões golfando o ar, da cabeça em espiral ensaiando e rasurando, rascunhando e desenhando mais. Tudo gasto, tudo dito, tudo quase vivido já, todas as possibilidades esgotadas, todo o amor sentido assim num ápice de fogo e assassinado ao mesmo tempo.
Lembram quando eu disse que era uma cena bem rara mas não tão difícil assim de acreditar? Num diálogo só, Romi e Julie insuflaram e rebentaram o grande balão que seria a sua vida em conjunto. No final eram seres velhos, velhinhos, pequenos. Folhas de papel esperando o ônibus passar.
Julie atravessou a estrada, entrou dentro do seu carro e conduziu para Sul. Romi entrou no grande transporte público, sem dinheiro e sem passagem, e se sentou no último lugar do fundo, pregado ao vidro, em direcção ao Norte.
Por mais redondo que o mundo seja nunca mais se encontrarão. Mas durante um momento foram felizes para sempre.
Agosto, 2023
Casa do Sol
Sara Carinhas (ela / dela) nasceu em Lisboa, em 1987. Estuda com Polina Klimovitskaya desde 2009. É mestranda em Estudos de Teatro pela FLUL. Estreando-se como intérprete em 2003 e tendo recebido o Globo de Ouro de melhor actriz (2015), trabalhou em Teatro e Cinema com Beatriz Batarda, Fernanda Lapa, João Mário Grilo, Manoel de Oliveira, Manuel Mozos, Marco Martins, Margarida Cardoso, Patrícia Sequeira, Tiago Guedes, Valéria Sarmento, entre outros. Como encenadora destaca "As Ondas" (2013), "Orlando" (2015), "Limbo" (2019) e “Última memória” (2023) - em digressão. Foi cronista regular no Gargantas Soltas da Gerador (2021/2022). Publicou o seu primeiro livro “Imprudente luto” em 2023.