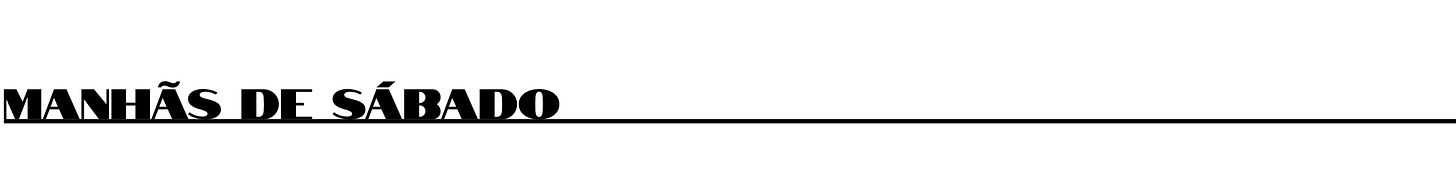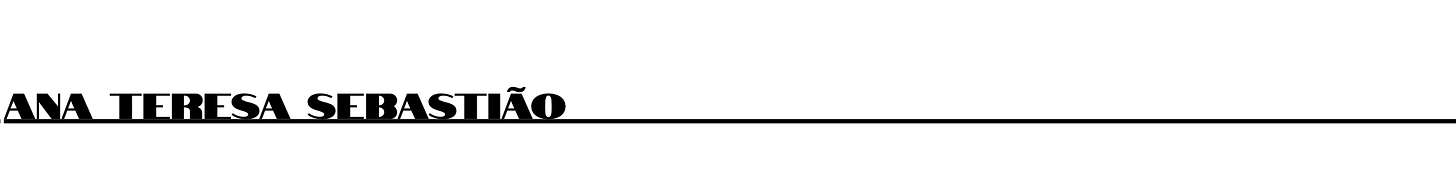Há muita coisa que não é óbvia para mim.
Não é óbvio para mim o porquê de
Não é óbvio que
Mas há algo que é óbvio. Se for sábado de manhã, há uma massa populacional numa terra de 10 mil habitantes no interior algarvio que se dirige para um mesmo ponto de encontro. Não vão lá com o objetivo primário de se encontrarem. Mas se algum não aparece sem aviso, sinal de alarme para os demais.
E, para mim, isto é tão óbvio como saber que por volta da uma, quando toca a sirene dos bombeiros, que eu não oiço lá em casa, a mãe chega, traz a balsa com as compras e eu corro para o pão fresco e queijo da ilha. Pão fresco. Como só o interior serrano conhece. Eu posso já lá não estar aos sábados para acorrer ao final do ritual – a chegada –, mas sei que ele continua sem mim.
O edifício da praça recebe os peixeiros, os agricultores que lá vão enfeitar as suas bancadas com os produtos da semana. Há muitas formas e cores naquelas bancadas, e atrás delas as senhoras que nada timidamente gritam a frescura dos seus produtos.
Este sábado de manhã é diferente.
Não porque não estou lá. Nesse sentido, diferente seria estar. Mas nesta manhã de sábado vejo os sábados de manhã destas pessoas que estão no coração da cidade.
Vejo uma casa emparedada. As cicatrizes de cimento entre o tijolo nu. Aqui os sábados de manhã são qualquer outro dia.
Numa rua que parece não ter saída, há onze prédios, todos de cores diferentes – azuis verdes castanhos cinzentos... os pálidos confundem-se com o céu coberto de nuvens.
Caminho mais um pouco e sou assaltada pelo cheiro a roupa lavada. Olho o céu cerrado enquanto absorvo este cheiro. Quando regresso desta deriva, apercebo-me de que à minha frente moram contentores do lixo. Sorrio pela dessincronização sensorial que vivo.
Do outro lado da rua, uma senhora à janela reclama do preço dos legumes, “três euros e dezoito!”, exclama revoltada. Mais abaixo, pela altura do beiral, um chapéu cinzento na cabeça de um senhor atira-se ao chão com indignação. “Tá bem, tá”. Nunca percebi de que legumes se tratavam.
No número 42, cinco portas à esquerda como quem está de costas para a senhora revoltada à janela do rés-do-chão, uma menina acena aos carros que passam. O varandim daquele último andar encolhe-se ainda mais perante a excitação daquela criança.
Cá em baixo, um carro apita. O pombo que está na estrada nunca revelará àquela criança que não era para ela o aceno sonoro.
“Pai, pai, vou a correr”, informa um menino que chega ao edifício da piscina municipal com o pai e o irmão.
Esta piscina vê toda a linha do horizonte da cidade de Lisboa. Mas não hoje, que as nuvens brancas só permitem alcançar até ali ao Areeiro, provavelmente.
Desço esta rua enquanto uma mãe a sobe, com duas crianças num carrinho de bebé. A mais velha, empoleirada junto ao manípulo, pouco mais que alcatrão verá, apesar da curiosidade.
Vejo as horas.
Ana Teresa Sebastião (ela/dela), do Sul, prestes a sair dos vintes, sempre convicta de que as histórias de cada uma de nós são a história de todos nós.